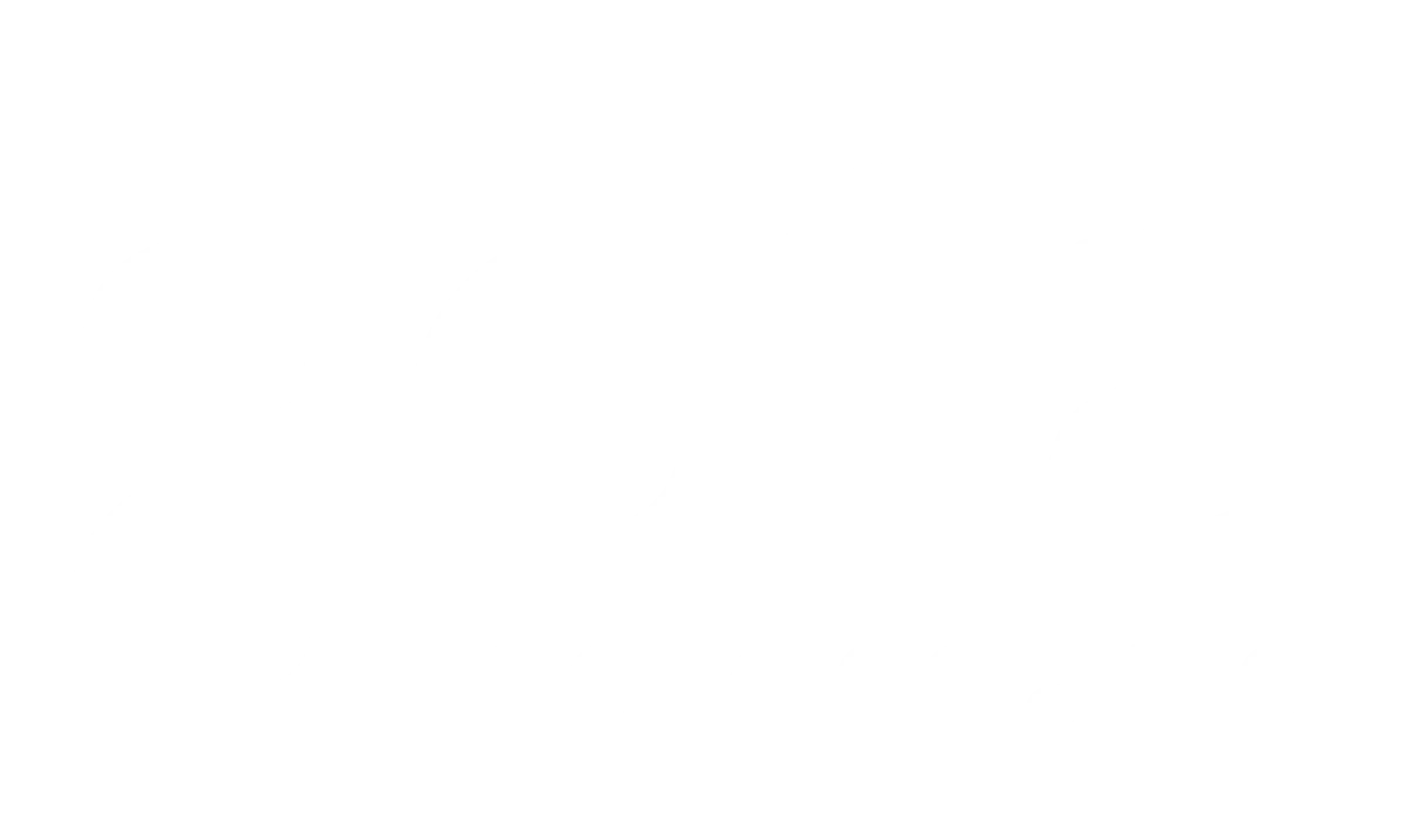Não somos nós que podemos acabar com o agronegócio, mas ele mesmo
Por Sonia Bone Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)*
Minha língua materna é a ze’egete, que significa “a fala boa”. Sou formada em Letras, pela Universidade Estadual do Maranhão, também conheço muito bem o português e sei interpretar suas nuances. “Narrativa”, palavra adotada como mágica pelos seguidores do presidente, é definida no dicionário como “texto em prosa cujos personagens figuram situações fictícias, imaginárias”. E ela define a fala má dita na semana passada por Bolsonaro sobre o julgamento da tese do “marco temporal” no Supremo Tribunal Federal (STF): “Se mudar o entendimento passado, de imediato nós vamos ter que demarcar, por força judicial, uma outra área equivalente à região sudeste como terra indígena. Acabou o agronegócio, simplesmente acabou”. Como é possível caber tanta ficção em apenas duas frases?
Ruralistas chegaram a pagar anúncios de página inteira nos jornais para ajudar a vender a fantasia presidencial; mas, no mundo real, se o STF decidir sepultar de vez o “marco temporal” não estará modificando nenhum “entendimento passado”. Na verdade quem fez isso foi a Advocacia Geral da União (AGU), durante o governo Michel Temer, quando emitiu o Parecer 001/2017. O “marco temporal” – que pretende determinar que somente os povos indígenas que estivessem ocupando suas terras na data da promulgação da Constituição poderiam reclamar sua posse – não era previsto por lei. Grace Mendonça, titular da AGU na época, valeu-se do voto do ex-ministro Ayres de Britto no julgamento sobre a homologação da Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol, para formular seu entendimento, digamos, equivocado.
Em março de 2009, a Suprema Corte havia decidido que a TI deveria ser demarcada “de forma contínua” e não em “ilhas”; logo, propriedades não indígenas ficariam de fora da área delimitada. Apenas o voto de Britto, aposentado em 2012, fazia menção ao “marco temporal”. Em outubro de 2013, o tribunal foi novamente acionado para julgar apelações contra a sua decisão. E além de manter o veredicto, o STF determinou que ela não teria efeito vinculante – ou seja, não poderia ser usada em outros casos semelhantes. Aliás, a tese do “marco temporal” sequer foi aplicada no processo original da Raposa Serra do Sol, já que havia posses não indígenas nos limites de seu território que datavam do início do século XX e foram anuladas. Isso não é história, é História.
Bolsonaro prometeu que faria o Brasil voltar ao que era há 50 anos, mas a aprovação do “marco temporal” levaria o país a recuar ao período colonial. O Alvará de 1º de abril de 1680, sancionado pela Lei de 6 de julho de 1775, já estabelecia que em “terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores delas”. Lamentavelmente, o presidente também não será obrigado a fazer nada “de imediato”: o artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 1988 estabelecia um prazo de cinco anos para que todas as TIs estivessem demarcadas. Ou seja, o Estado brasileiro está 28 anos atrasado. E a demanda por novas demarcações é pequena, já que dos 724 processos, 67% já foram concluídos.
Hoje, as terras indígenas ocupam 13,8% do território nacional. Parece muito, mas a porcentagem é menor que a média mundial, que chega a 15%, segundo um estudo publicado na revista “Nature Sustainability”, em 2018. Se comparado à porcentagem ocupada por propriedades rurais, a gente perde de goleada: 41%, sendo que 22% são tomados por pastagens – metade em estado de degradação – e 8% com plantações. São 421 TIs já homologadas, que totalizam 1.066.000 km² e 303 em fase demarcação, ou 110.000 km². Nelas vivem mais de 600 mil pessoas. Enquanto isso, 51,2 mil latifúndios, ou 1% das propriedades, ocupam 20% do território brasileiro. Quem me contou isso não foram os encantados, mas o Diário Oficial da União (DOU), o IBGE, a Funai, o Instituto Socioambiental e o projeto MapBiomas. São informações acessíveis a qualquer um.
Ainda para efeito de comparação, a TI Ibirama-La Klãnõ, ironicamente reclamada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e cujo julgamento o STF tornou de repercussão geral, tem 370 km² e dela dependem 2.057 pessoas (além dos Xokleng, vivem nela indígenas Guarani, Guarani Mbya, Guarani Ñandeva e Kaingang); já a Fazenda Nova Piratininga, que pertence a três empresários, ocupa 1.350 km², uma área quase quatro vezes maior, onde pastam 105 mil bois. O maior latifúndio do país fica em Goiás, cujo território é 77% ocupado pelo agronegócio e 0,1% por TIs. Santa Catarina é o segundo estado onde há mais conflitos envolvendo terras indígenas; a proporção entre elas e propriedades rurais é de 0,8% contra 67%.
Não há espírito bandeirante que justifique tamanho olho gordo em nossas terras: só na Amazônia há 510.000 km² – dois Estados de São Paulo – de área não destinada, que poderiam ser usados para produção, demarcações e conservação. TIs são fundamentais para conter o desmatamento – apenas 1,6% da perda de vegetação nativa no país se deu em seus limites entre 1985 e 2020 – e elas armazenam 28,2 bilhões de toneladas de CO₂ na Amazônia, o que dá 33% do total. Sem as terras indígenas e os povos que as protegem, o planeta vai esquentar e o céu vai parar de mandar chuva. Não somos nós que podemos acabar com o agronegócio, mas ele mesmo e as falas más.
*Uma versão um pouco mais curta deste artigo foi publicada na Folha de São Paulo em 31/08/2021 (no site) e em 1/9/2021 (no impresso)